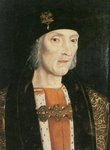Congreso Internacional
Cristóbal Colón 1506-2006.
Historia y Leyenda
Palos de la Frontera
2006
Pp. 27-50
As viagens de Colombo
e a náutica portuguesa de quinhentos
JORGE LUÍS MATOS
Escola Naval, Lisboa
Diz-nos a mais rigorosa e atenta historiografia tradicional que Cristóvão Colombo chegou a Portugal por via de um trágico acaso, que resultou num naufrágio em que miraculosamente salvou a vida nadando até à costa algarvia, por perto do Cabo S. Vicente. Fundamenta-se esta ideia no que nos descreve Las Casas1 e que, aliás, repete o que consta na História del Almirante escrita pelo próprio filho, Hernando Colón. “el almirante navegava en compañia del mencionado Colón el Mozo, cosa que hizo durante mucho tiempo”,2, encontrando quatro navios de Florença que decidiram atacar. O combate foi duro e prolongado, de que resultou um incêndio e um naufrágio, de que Colombo se salvou a nadar até à costa, descansando, de vez em quando, agarrado a um remo. E este é apenas mais um dos muitos episódios misteriosos que envolvem a vida do descobridor da América. Vários historiadores chamaram a atenção para a impossibilidade de que tivesse navegado com o corsário Colón el Mozo, que se sabe ter actuado muito depois da data apontada para estes eventos, e os factos narrados – a batalha, o incêndio e o próprio nome do corsário – sugerem um outro corsário, conhecido por Colombo el Viejo, na altura ao serviço do rei de França. Alonso de Palencia e Diego Valera referem um combate que teve lugar em 13 de Agosto de 1576 e Rui de Pina fala do mesmo corsário3, referindo que se encontrou com Afonso V em Lagos – quando este partia ao encontro de Luís XI, pedindo-lhe apoio, na sequência da batalha do Toro – e concertou de “andar d’armada em seu favor [...] Os quaes todos logo de hy a poucos dias [...] afferaram quatro carraças de Genoa, e sendo já per força entradas em huma, se acendeo fogo em hum barril de pólvora...”. A história parece ser coincidente em várias fontes, apenas surgindo nova polémica quanto ao lugar que Colombo ocupava na contenda. Pareceria evidente que viria num dos navios genoveses, o que se confirmaria pelo socorro ou pela ligação que estabeleceu em Lisboa com as casas comerciais de Spínola e Di Negro, mas pode acontecer que andasse na própria armada do corsário francês há alguns anos, o que justificaria o seu saber náutico e muitas outras observações que surgem avulsas e, nalguns casos, inexplicáveis nas suas notas e nas afirmações de Hernando e Las Casas4. Em todo o caso, não é meu propósito aprofundar aqui essa questão –que, além do mais, se me afigura bastante turva– aceitando apenas o facto de que em 1476 se instalou em Portugal, onde terá chegado a nado. E por alguma razão aqui ficou.
(D. João II)
Adivinha-se no Portugal de 1476 o despontar do plano joanino da Índia que tinha uma face visível na persistência das navegações ao Golfo da Guiné e na tentativa de continuar as explorações cada vez mais para sul. A guerra com Castela, encetada por D. Afonso V, com o intuito de colocar no trono vizinho a sua sobrinha Dª Joana, sofrera um revés importante na batalha do Toro que, por si só, poderia não ter sido decisiva. O monarca português tentava, por todos os meios fazer uma aliança com Luís XI de França e buscava os apoios necessários para continuar o conflito. Contudo, surge na altura um factor que me parece ter sido decisivo para o desenrolar dos acontecimentos. As explorações da Guiné davam os seus frutos e constituíam um monopólio quase absoluto para as caravelas portuguesas, mas a guerra com Castela tinha criado um grave problema a esse tráfico valioso: a aproximação a Lisboa tornara-se perigosa pela multiplicação de ataques corsários; e, pior do que isso, surgiam navios castelhanos nas costas da Guiné, ameaçando descobrir os caminhos de uma fonte que importava preservar. Estes foram, talvez os principais factores tidos em conta pelo príncipe D. João (herdeiro do trono) que formalmente tomara conta dos negócios ultramarinos em 1471, mas que só depois do Toro a eles se dedicava de corpo e alma, olhando-os como um desígnio nacional de primeiríssima ordem e a preservar a todo o custo.
É curioso notar, sobre este assunto, a ascensão da figura de Fernão Gomes, a quem o rei tinha arrendado, em 1469, e por cinco anos, a exploração dos produtos da costa africana (com excepção do comércio de Arguim e da terra em frente às ilhas de Cabo Verde), mediante o pagamento de uma renda anual de 200 000 réis e o compromisso de explorar 100 léguas de costa por ano. Fernão Gomes cumpriu escrupulosamente o contrato (que viu prolongado por mais um ano) e foi nobilitado posteriormente, passando a integrar o Conselho Régio em 1478. Curiosamente, numa altura em que o governo estava na mão do Príncipe, na qualidade de regente. E realço este pormenor para salientar a importância que D. João deu às viagens marítimas, uma questão preterida pelo seu pai como secundária, nomeadamente, em relação às campanhas e conquistas em Marrocos. Neste caso específico, a nobilitação de Fernão Gomes e a sua integração no conselho régio, associada à ascensão do Príncipe, quer nos assuntos africanos quer no governo do próprio país, são alguns dos factos que se podem relacionar com um crescente interesse pela exploração ultramarina, agora ameaçada pela intromissão castelhana na sequência da guerra de sucessão. Quero com isto dizer que, o período que vai de 1476 (após o Toro) até à assinatura do Tratado das Alcáçovas, em 1479 (ratificado em Toledo em 1480), é um período de mudança na política portuguesa. E é inevitável que isso não tivesse uma expressão visível no movimento do porto de Lisboa, fosse pelo crescente número de navios, fosse pelo carácter exótico das mercadorias e gentes, fosse ainda (sobretudo) pelas conversas sobre o “mundo por descobrir”. A cidade, o porto e a corte, eram certamente paraísos de aventureiros, discutindo cada um ao nível da sua própria visão da descoberta. Havia homens simples do mar que procuravam impressionar os incautos com histórias mirabolantes de viagens, terras nunca vistas e ilhas encantadas; haveria homens de negócios que contactavam com mercadorias impensáveis alguns anos antes, e que realizavam negócios fabulosos; mas circulavam também cosmógrafos, cartógrafos, astrólogos, fabricantes de instrumentos, homens que sabiam latim e grego e que conheciam relatos e descrições fantásticas, gente que vendia livros, pessoas que frequentavam a corte e que, no rebuliço das tabernas, falava dos seus sonhos sem limites. E foi esta Lisboa que Colombo viu (pela primeira vez?) e que não pode ter deixado de o impressionar. A Ribeira, o Tejo, a Casa da Mina, as ruas de mercadores, as lojas de livros, as oficinas de cartógrafos e o convívio com eruditos clérigos ou laicos compuseram a “babilónica universidade” onde estudou, pensou e desenvolveu a ideia de alcançar as Índias, navegando num sentido diferente daquele que seguiam as habituais viagens portuguesas.

Deve dizer-se que na sua essência o projecto colombino não era uma novidade absoluta, encontrando múltiplas inspirações em viagens ocasionais ou fantásticas, que decorreram (ou de que se falou) ao longo do século XV, e que faziam supor a existência de ilhas e terras a ocidente. Terras essas que aparecem na cartografia da época. O caso mais antigo –tanto quanto sei– está na carta atribuída a Zuane Pizzigano e estudada por Armando Cortesão, onde surge um grupo de ilhas (antilia e satanases são as de dimensões mais significativas) que o autor coloca no Golfo do México, pretendendo, dessa forma, documentar viagens portuguesas a essas longínquas paragens antes de 1424, data da feitura do mapa. Não importa agora qualificar a sua argumentação, mas apenas salientar o mito, a ideia e a conversa suscitada pelo assunto, que, pelos vistos, não se circunscrevia à Península Ibérica. Aliás, se quisermos ser mais rigorosos na consideração de relatos de viagens aos espaços oceânicos do Atlântico ocidental, mesmo passando por cima das fantásticas hipóteses de fenícios e gregos, que ali podem ter ido parar ao sabor das correntes (para não mais voltar), não devemos ignorar a Descrição da África e de Espanha feita por Edrisi, no século XII, onde nos diz: “Foi de Lisboa que partiram os aventureiros, para a expedição que tinha como objectivo saber o que encerra o Oceano e quais são os seus limites...”. Uma expressão que encerra toda a magia do oceano ocidental e a nostalgia de quem olha o sol poente e sente crescer o desejo de ir atrás dele, num impulso de negação da noite. E não faltaram a Colombo outras descrições como esta. Uma delas está relatada pelo filho, Hernando Colóm, e por Las Casas referindo uma viagem de Diogo Teive, que “ocorrió cuarenta años antes de que se descubriesen las Indias”5, culminando com a descoberta das ilhas das Flores e do Corvo, as mais ocidentais do Arquipélago dos Açores. Mas há mais referências na História da Expansão Portuguesa, até aos anos oitenta do século XV, e que não passaram despercebidas a Colombo. Em 1462, João Vogado requereu a D. Afonso V os direitos de donatário de umas ilhas que tinha avistado numa outra viagem, propondo-se lá voltar. Fernão Rodrigues do Arco, Fernão Dulmo, João Afonso do Estreito, foram outros tantos a quem foram prometidas benesses sobre terras a descobrir, cumprindo, aliás, um ritual que servia os intentos do rei, estimulando iniciativas, sem despender nada da sua própria fazenda.
Diremos, no entanto, que em nenhum destes exemplos se identificou as (imaginárias) terras ocidentais como sendo a Índia a que procurava chegar D. João II ou D. Manuel, e que Colombo dizia ser muito mais fácil de alcançar (mais perto) seguindo para ocidente. Entre um caso e outro parece-me haver uma diferença qualitativa substancial que –no caso do navegador italiano– implicava um raciocínio sobre a cosmografia clássica e obrigava a um conhecimento (mesmo que erróneo) de coisas que não estavam ao alcance dos comuns marinheiros sonhadores. Alguns anos depois de estar instalado em Portugal, tendo casado com Filipa Moniz, filha do primeiro capitão donatário de Porto Santo, o jovem corsário/comerciante genovês propôs ao rei D. João encontrar o caminho marítimo para a Índia, navegando na direcção do ocidente, onde esperava encontrar as ilhas de Cipango (Japão) e o grande império do Cataio (China), a partir de onde alcançaria a Índia, tal como o fizera Marco Pólo cerca de dois séculos antes. Fácil será de entender que a proposta parecia aliciante, uma vez que a exploração da costa africana, a sul do Equador, era trabalhosa, os navios lutavam contra correntes marítimas adversas, e não era possível saber-se com absoluta certeza se havia, efectivamente, uma passagem navegável para o Oceano Índico. Além disso, pelos cálculos de Colombo, a diferença de longitudes entre a Península Ibérica e a Índia, contada para ocidente, era menor do que sendo contada para oriente. A proposta tinha portanto uma componente de natureza científica que implicava uma compreensão geométrica da esfera terrestre, inacessível ao navegador ou comerciante comum. Ou seja, a par do ambiente próprio de um porto onde se cruzavam navios vindos de todas as partes, e onde viviam homens que tinham, efectivamente, avistado novas terras e novos mares –colocando nas suas conversas algo mais do que aquilo que se diria em qualquer porto do Mediterrâneo ou da Europa do Norte– Cristóvão Colombo tinha colhido em Lisboa um outro saber que não era acessível a toda a gente sobre o qual, pela certa, já trazia alguma preparação. Nas viagens que efectuara como corsário ou mercador e nas longas estadias que a vida do mar por vezes proporcionava, tivera oportunidade de contactar com quem sabia latim, e lhe fornecera alguns rudimentos de uma língua, que nunca escreveu com o requinte e a elegância de Cícero, mas que podia ler e entender. Sobretudo, podia servir-se dela para aprender coisas, o que foi muito importante. Provavelmente, teve contacto com algumas das mais notáveis obras de geografia e cosmografia, quer da antiguidade, quer de tempos mais recentes. E com estes instrumentos foi construindo um saber que lhe permitia acompanhar algumas das especulações geográficas da época. Pode discutir-se se o adquiriu em Lisboa ou se já lhe vinha de uma juventude cujos pormenores desconhecemos, mas não creio que isso seja a questão mais importante a considerar. Como todos os espíritos dotados da ansiosa curiosidade que permite chegar ao saber, é provável que a sua aprendizagem tivesse sido contínua, com muita leitura e muita discussão especulativa. E fê-lo sempre com quem estava ao nível dos seus conhecimentos, não lhe faltando interlocutores em Itália ou em Lisboa, como não lhe faltaram depois em La Rábida ou em Sevilha.
 (Paolo dal Pozzo Toscanelli
(Paolo dal Pozzo ToscanelliReconstituição hipotética da sua carta geográfica em projecção cilíndrica)
Um caso, no entanto, importa recordar, porque teve uma particular importância na definição do seu ousado plano marítimo: o conhecimento que teve de uma carta e de um mapa elaborados por um matemático e cosmógrafo florentino chamado Paolo del Pozzo Toscanelli, enviados ao português Fernando Martins, na altura cónego da Sé de Lisboa e conselheiro do rei D. Afonso V. Como quase tudo o que diz respeito a Colombo, também este caso está envolto em névoas e suposições que resultam do desaparecimento dos documentos originais e de posteriores manipulações de toda a ordem. Mas alguns dos factos podem ter-se como certos, parecendo incontestável que esta carta teve uma influência determinante na estruturação do plano colombino. Em 1871, Henry Harrisse encontrou dentro de um livro que pertencera à biblioteca de Colombo a cópia de uma carta que lhe escrevera o matemático florentino6. Aparentemente trata-se da resposta a uma outra que lhe enviara o almirante, e do texto consta uma breve explicação da sua teoria sobre a estreita dimensão do Oceano Atlântico e a proximidade das terras visitadas por Marco Pólo. Como anexo, envia-lhe ainda uma cópia do escrevera ao cónego lisboeta em 1471, na altura, com o intuito de que fosse apresentado ao rei de Portugal um projecto de viagem até à Ásia, seguindo na direcção do Ocidente. Segundo o texto, as explicações eram ainda complementadas com um mapa (desaparecido) que evidenciava a sua teoria, e mostrava como as costas da China e do Japão estavam ao alcance de qualquer navio, em meia dúzia de dias. Ao que parece, Colombo soube da correspondência entre o prelado português e Toscanelli, resolvendo escrever a este último, apresentando-lhe as suas próprias ideias e pedindo-lhe o apoio do seu prestígio e autoridade científica. Como resposta recebeu, então, uma carta de que o documento encontrado é (aparentemente) uma transcrição feita pelo próprio Colombo ou por seu irmão Bartolomeu. Parece óbvia a forma como as ideias de Toscanelli caíram no espírito de Colombo como ouro sobre azul, e tudo surge relatado na História de las Indias e em Las Casas, apesar de que continuam a subsistir dúvidas sobre a autenticidade da correspondência entre o florentino e o almirante, dado que os documentos existentes não são originais e apresentam algumas incoerências. No que diz respeito à posição portuguesa sobre o “caso Toscanelli” –e tendo em conta que a primeira versão da carta datada de 1474– é importante observar que, nesse tempo, a exploração da costa africana estava por alturas do Cabo de Santa Catarina (1º 53’S; 9º 16’E) e que, posteriormente, ocorreram casos diversos de navegadores que se propuseram ir descobrir terras a ocidente, requerendo benefícios e privilégios sobre as mesmas. É possível que, durante algum tempo, a coroa portuguesa (leia-se a direcção política do Príncipe D. João) tenha jogado nas duas hipóteses, até tomar consciência de que a distância para ocidente era muito superior à que afirmava o florentino. Mas parece-me interessante seguir um conjunto de factos que podem ajudar a interpretar algumas das decisões tomadas.
Como já foi dito antes, em 1479, foi assinado o acordo das Alcáçovas, e uma das suas cláusulas estabelecia serem portuguesas todas as terras e ilhas descobertas a sul das Canárias “contra Guinea”, bem como o direito de navegação e comércio nessas paragens. Esta cláusula foi conseguida, sem sobra de dúvida, à custa de cedências, nalguns casos bastante humilhantes para D. Afonso V, e indicia uma clara opção no sentido de garantir o domínio dos mares do sul, mesmo que isso apenas tenha a ver com os tratos de comércio, que se revelavam bem lucrativos desde que foram atingidos os deltas do Volta e Níger. Entretanto, em 1481, morre D. Afonso V e sobe ao trono D. João II que, de imediato, manda construir a fortaleza de S. Jorge da Mina (5º 10’N; 1º 15’W). Ainda no ano de 14817, Diogo Cão sai para a sua primeira viagem até à costa angolana e, a partir daí, são notórios os esforços para alcançar o extremo sul da África, em viagens sucessivas (três de Diogo Cão) que culminam com a de Bartolomeu Dias, em 1487/88, quando, finalmente, se dobrou o Cabo da Boa Esperança.
Não se sabe qual foi a data exacta em que Colombo apresentou o seu projecto a D. João II, mas supõe-se que terá ocorrido por fins de 1483 ou princípios de 1484. Na altura a casa da Mina funcionava em pleno, o ouro da Guiné chegava regularmente a Lisboa, e Diogo Cão já tinha regressado da sua primeira viagem, anunciando os contactos com o reino do Congo e preparando-se para partir de novo para o Hemisfério Austral. Parece-me claro que o soberano português não aceitaria inverter esforços, concedendo a uma iniciativa destas mais do que aquilo que aceitava sempre. Os “privilégios do costume”, direi eu. O governo das terras descobertas, com as limitações jurisdicionais habituais, e honras menores de nobilitação, que nunca eram definidas a priori. Não creio que Colombo se contentasse com isso, nem creio que D. João II estivesse disposto a inverter um processo que parecia dar passos seguros, que correspondia às opiniões científicas mais avançadas da época, e que seguia por um caminho onde os portugueses tinham de concentrar esforços para garantir o domínio efectivo de uma zona que, além do mais, já estava a dar lucro.
Pouco importam, no entanto, as razões ou os argumentos debatidos entre os representantes do rei e o navegador, uma vez que o projecto não foi aceite nem parece ter merecido a importância de uma referência numa crónica8. O que aqui interessa salientar é a forma como o Cristóvão Colombo, que chegou a Portugal em 1476, pode ter sido influenciado pelo ambiente de Lisboa para cimentar uma ideia que assumiu a força de uma obsessão. O facto de ouvir falar na existência de terras a ocidente –algumas delas com dimensões tão significativas que poderiam ser um dos países descritos por Marco Pólo– e de ter tomado conhecimento de uma teoria que colocava essas terras a uma distância acessível, numa viagem marítima directa, parece-me ter dado corpo apenas a uma parte do plano colombino. Outros factos com que contactou e que deve ter acompanhado com atenção deram ainda mais força às suas ideias, da mesma forma que a experiência das navegações realizadas naquela década lhe permitiu resolver alguns problemas náuticos e técnicos complexos, que a sua empresa comportava.
Contudo, antes de abordar as questões náuticas propriamente ditas, em que podem relacionar-se decisões tomadas pelo almirante, com práticas e saberes que estão presentes nas navegações portuguesas entre o Golfo da Guiné e Lisboa, parece-me importante falar de uma viagem que efectuou às Ilhas Britânicas, possivelmente em 14779. Em relatos do próprio –registados numa nota à margem dum exemplar da Historia de Pio II10, e no fragmento de uma carta que, em Janeiro de 1495, escreveu aos Reis Católicos– diz o seguinte: “Yo navegué el año de cuatrocientos y setenta y siete, en el mes de Hebrero, ultra Tile isla cien leguas, cuya parte austral dista del equinocial setenta y tres grados, y no sesenta y tres, como algunos dizen...”11. Ou seja, navegou para além da Islândia (a Thule de Pytheas), cerca de 100 léguas, verificando que o mar não estava congelado e que ”avia grandíssimas mareas, tanto que en lagunas partes dos vezes el dia subia veinte y cinco braças”. Já vários autores repararam que a tentativa de corrigir a latitude da costa sul da Islândia de 63º para 73º é um erro inexplicável para quem afirma lá ter estado e demonstra saber bem como é que se calcula essa coordenada. E digo que demonstra saber bem como se calcula porque, apesar dos valores errados que, por vezes, surgem nos seus escritos –que nalguns casos tocam o absurdo–, a diligência e segurança com que dirige os navios que comanda mostra que sabe muito bem onde anda e como deve proceder. Estes erros têm, portanto, uma origem qualquer que desconheço e sobre a qual não me parece prudente especular. Neste caso, por exemplo, podem resultar apenas de ter recebido a informação de outrem, sem que a tenha verificado in loco. E em abono desta hipótese refiro que a passagem por tão frígidas regiões com dificuldade poderia ter ocorrido em Fevereiro (como diz o texto), quando os gelos vêm quase até à Islândia12, os temporais são constantes e a as marés, que nalguns locais têm uma amplitude extraordinária, se comparada com o Mediterrâneo, de maneira nenhuma alcançam as 25 braças13. Ponho a hipótese de que tenha saído de Portugal em Fevereiro, com destino ao porto de Bristol e tenha passado, eventualmente, por Galway, onde observou que as marés eram muito grandes (?), ouviu histórias dos pescadores que, há muitos anos, iam pescar até às ilhas Feroés e à Islândia, chegando-lhe aos ouvidos uma outra história da mais antiga saga viking, que hoje sabemos ter chegado à Groenlândia ou mesmo até à foz do rio S. Lourenço e Terra Nova14.
Pode ter acontecido que, ao sair de Lisboa, já levasse alguma informação sobre empreendimentos marítimos extraordinários, hoje difíceis de documentar. Existe, por exemplo, um conjunto de informações dispersas, de um modo geral de fundamentação frágil e espalhadas por obras escritas muito a posteriori, que registam relações políticas entre D. Afonso V e o rei da Dinamarca, envolvendo a realização de uma expedição conjunta aos mares da Terra Nova. De tal viagem se tem conhecimento através de um documento publicado em 1909 por Luís Bobé, consistindo numa carta enviada pelo burgomestre de Kiel, a 3 de Março de 1551, ao rei Cristiano I da Dinamarca, anunciando que com ela segue um mapa onde está representada uma viagem até às costas da Groenlândia (natural para navegadores dinamarqueses) realizada a mando de seu avô Cristiano I e a pedido do rei de Portugal15. O documento é credível e sustenta a realização da empresa onde participaram portugueses; contudo, não fornece os dados suficientes para que se perceba quem foi e o que aconteceu. De qualquer forma foi assunto conhecido em Portugal (por um núcleo mais ou menos restrito?) e é muito possível que tenha chegado aos ouvidos de Cristóvão Colombo, acompanhando-o na viagem a Bristol e fazendo já parte do seu património onírico. E quando falo do património onírico de alguém que se aproxima de Bristol em 1477, creio não ficar muito longe da verdade ao pensar que seria muito parecido com o de Giovanni Caboto, alguns anos mais tarde16. O projecto deste último, apresentado na altura ao rei Henrique VII parece-me semelhante ao que o almirante apresentou a D. João II e depois aos Reis Católicos. Apenas com a nuance de pretender partir dos mares gelados da Islândia e Terra Nova, para o que requereu o saber dos marinheiros do Norte. Não deixa, contudo, de fazer sentido que as conversas ouvidas por Colombo em Bristol17 possam ter constituído mais um elemento importante na prossecução da sua ideia, que admito já estar em gestação. E admito já estar em gestação porque este sonho de alcançar o reino do Grande Can, Cipango ou a Índia, não era tanto uma ambição do norte como seria do mundo italiano ou, mais recentemente, português.
Pelo papel que os italianos tiveram no comércio com o Levante é natural que, desde sempre, tenham imaginado entrar no Mundo Índico, e obterem as mercadorias orientais livres das taxas inerentes ao transporte marítimo e a travessia pelo Médio Oriente. O que não tiveram foi solução fácil para esse problema. Foi a evolução dos conceitos geográficos (com e sem erros), e o desenvolvimento das navegações no Atlântico que lhes permitiu cismar sobre caminhos novos. Não é de espantar, portanto, que surjam dois homens, como Colombo e Caboto, sorvendo conceitos, técnicas e teorias por todo o lado (nem sempre de forma organizada e coerente) e a tentarem a sua sorte, no sentido de concretizarem o que a sua imaginação, de mercadores do Mediterrâneo, concebeu.
* * *
Pouco tempo depois de chegar a Portugal, Colombo casou com Filipa Moniz, filha de Bartolomeu Perestrelo, primeiro capitão donatário da ilha do Porto Santo, perto da Madeira. Hernando Colón, na sua Historia, relata que a sogra “le dio los escritos y cartas de marear que le habían quedado de su marido”, facto que foi contestado por Henry Harrisse afirmando que Perestrelo não era um navegador, sendo pouco provável que tivesse escritos, cartas e instrumentos náuticos. Na verdade Perestrelo era descendente de um comerciante italiano chegado a Portugal no final do século XIV e, como João Gonçalves Zarco e Tristão Vaz Teixeira, comandou um dos navios que alcançaram e reconheceram aquelas ilhas, já conhecidas mas nunca povoadas. Efectivamente nada há que nos diga que fosse um perito em navegação, mas era um criado do Infante D. Henrique, como muitos outros que navegaram para a costa ocidental africana, sobre quem –salvo raras excepções– desconhecemos se sabiam navegar e qual era a sua verdadeira experiência a dirigir navios ou o que sabiam sobre cartas de marear. Não é, aliás, muito importante sabê-lo com pormenor, mas pode deduzir-se que, na sua condição de capitão do Porto Santo e, sabendo-se que não viveu na ilha senão muito tardiamente (1428), para lá se desolando com frequência e pelo mar, não parece difícil imaginar que navegou até à sua morte, por alturas de 1457 ou 1458 (bastante antes da chegada de Colombo a Portugal). Num momento em que os navios do infante D. Henrique sulcavam todo o Atlântico Ocidental, quase até ao Equador, parece-me provável que Perestrelo alguma coisa soubesse de mar e de navegações. Contudo –deixando esta polémica de parte– deve dizer-se que, após o casamento com Filipa Moniz, Colombo fez da ilha um dos seus pousos habituais, talvez porque a empresa comercial para quem trabalhava tinha interesses no comércio do açúcar madeirense, e o local lhe convinha. Tem-se dito que foi durante essa estadia que tomou consciência do tráfico marítimo português com o Golfo da Guiné, mas não creio que isso tenha necessariamente acontecido porque os navios não tinham de passar por ali. Com mais facilidade colheria a experiência desses mares, estando em Lisboa, na proximidade da Casa da Mina. Há, porém, um conjunto de observações importantes que ele próprio descreve como tendo verificado no Porto Santo, e que serviram para lhe confirmar a ideia de que a ocidente daquelas ilhas, numa distância mais ou menos curta, existiam terras, de onde vinham restos de madeira e outros indícios. Aliás, o almirante tem mais notas sobre estes objectos flutuantes “vindos do ocidente”, que diz ter visto em Galway e que outras pessoas lhe disseram ter observado, também, na ilha das Flores (Açores). Nestes dois últimos exemplos, os vestígios em causa são corpos humanos que, segundo ele, apresentavam características físicas de rosto largo, tal como os habitantes do Cataio. Na minha opinião, o problema destes relatos está no facto de terem sido registados em notas muito posteriores ao próprio acontecimento, parecendo-me que são criações da imaginação de Colombo numa altura em que precisa de provar aos Reis Católicos que as terras onde chegara, eram as terras do oriente que visitara Marco Pólo.
Na verdade, a chamada Gulf Stream é uma corrente marítima com uma circulação geral, no Atlântico Norte, no sentido dos ponteiros do relógio. Portanto, qualquer objecto lançado ao mar, poderá ser arrastado por essa corrente, vindo da costa americana até à Islândia, à Irlanda ou a qualquer outro ponto da Europa. É por causa dessa corrente que as algas do Mar dos Sargaços chegam à costa portuguesa, onde eram recolhidas na praia da Apúlia, e alcançam a Noruega. O que é, de todo, inverosímil é que um cadáver humano chegue de uma costa à outra, em condições de lhe ser identificada qualquer forma facial, mesmo que tenha sido colocado, de forma ritual, dentro de uma pequena embarcação. E há ainda outro problema que é importante referir: se a Gulf Stream corre de oeste para leste, pelo norte do Atlântico, e pode arrastar objectos vindos de ocidente até ao limite (aproximado) dos Açores, na região do Porto Santo a sua direcção é de norte para sul, tornando improvável o aparecimento de alguma coisa vinda dos sectores geográficos que interessavam a Colombo18. Quer isto dizer que o movimento geral das correntes marítimas, que o almirante parece conhecer bem quando efectua a sua primeira viagem, não resulta da observação de achados flutuantes que dariam à praia do Porto Santo, aos Açores ou a Galway. Estes casos (observados ou inventados) serviram-lhe para argumentar com um objectivo específico, ou ajudaram a fortalecer uma convicção já delineada, mas a aprendizagem do Atlântico, propriamente dita, deve tê-la feito noutras circunstâncias que me parece estarem mais ligadas a viagens que se supõe ter feito ao Golfo da Guiné, em navios portugueses.
Jorge Luís Matos